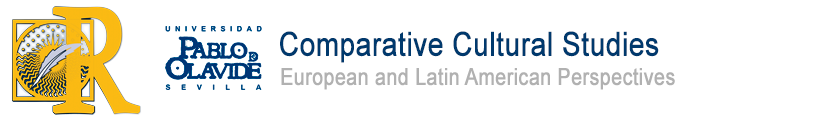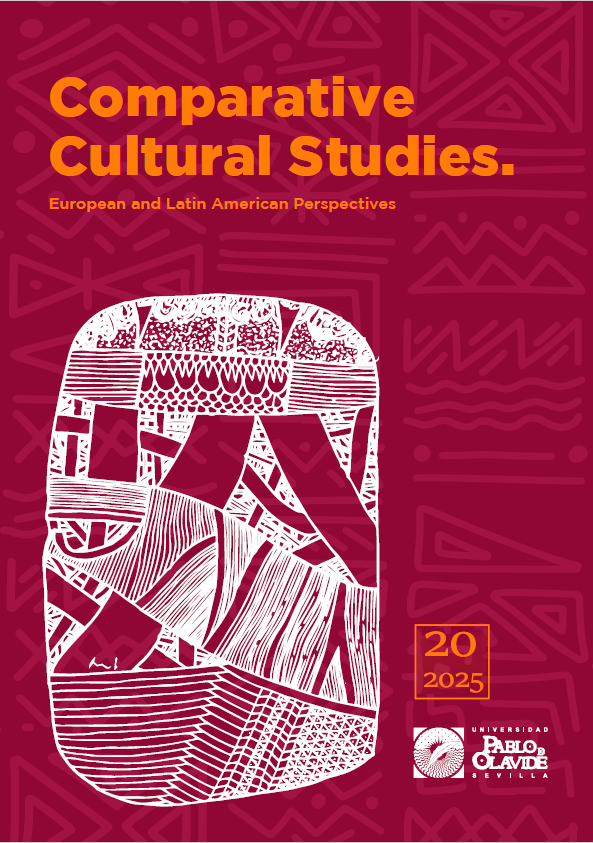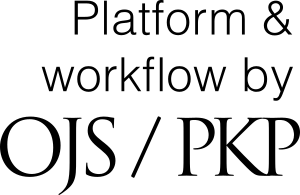Sincretismo y africanidad en la Umbanda Omolokô
DOI:
https://doi.org/10.46661/ccselap-11990Palabras clave:
Umbanda, religion, Brasil, Racismo, SincretismoResumen
En este artículo se expone la compleja relación entre umbanda y africanidad, como parte de la complexidad de la construcción de la identidad brasileña. Después de una extensa presentación de los complejos rituales de la umbanda en la actualidad se procede a detallar las razones por las que se formaron diferentes corrientes de umbanda, concretamente en la división entre “umbanda blanca” y umbanda omolokô. Por un lado, la umbanda blanca, niega el africanismo en sus prácticas, como el toque del atabaque, los sacrificios animales o las largas y complicadas iniciaciones. La desafricanización y el blanqueamiento de la religión umbandista pueden considerarse estrategias que reubicaron socialmente la religión y permitieron que se desdibujaran las fronteras establecidas para las macumbas, debido al racismo religioso, favoreciendo el acercamiento de las clases medias, que se volvieron hacia las religiones afro-brasileñas como una forma de expresar sus propios intereses de clase, sus ideas sociales y políticas, sus valores e ideales civilizadores. Por otro lado, una minoritaria umbanda omolokô reivindicaba el origen negro de la umbanda, adquiriendo un nuevo protagonismo los terreiros, al profundizar en el tema de las raíces ancestrales.
Descargas
Citas
Barros, Valchiria. (2023). O I Congresso de Espiritismo de Umbanda (1941) e o discurso de desafricanização da umbanda: a gramática da repressão. Revista Internacional de Folkcomunicação, 21(46), 167-189. https://doi.org/10.5212/RIF.v.21.i46.0009 DOI: https://doi.org/10.5212/RIF.v.21.i46.0009
Bastide, Roger. (1971). As religiões africanas no Brasil: contribuições a uma sociologia das interpenetrações de civilizações. Livraria Pioneira Editora – Editora da Universidade de São Paulo.
Bento, María Aparecida. (2014). Branqueamento e branquitude no Brasil. En I. Carone, & M. Bento, Psicologia social do racismo: estudos sobre branquitude e branqueamento no Brasil (Ed. 6) (págs. 25-58). Vozes.
Boff, Leonardo. (2009). O encanto dos Orixás. Ensino Religioso.
Birman, Patricia. (1983). O que é Umbanda. Brasiliense.
Brown, Diana. (1987). Umbanda e política. Cadernos do ISER, 18 (Vol. 18). ISER e Marco Zero.
Cacciatore, Olga G. (1977). Dicionário de Cultos Afro-brasileiros. Forense universitária/SEEC.
Camargo, Cândido Procópio Ferreira de. (1961). Kardecismo e Umbanda: uma interpretação sociológica. Livraria Pioneira Editora.
Caminhos Ciganos. (s.f.). Santa Sara Kali. Caminhos Ciganos: https://caminhosciganos.org/santa-sara-kali/
Capone, Stefania. (2004). A busca da África no Candomblé: tradição e poder no Brasil. Contra Capa Livraria / Pallas.
Carneiro, Edison. (1937). Negros Bantus. Negros Bantus.
Concepto (s.f.). Umbanda. Concepto. https://concepto.de/umbanda/
Conde, Saulo. (2011). Entre linhas e falanges: A diversidade da umbanda na contemporaneidade. NEIP: https://neip.info/novo/wp-content/uploads/2015/04/fernandes_linhas_falanges_umbanda_2014.pdf
Da Costa, Valdeli C. (s.f.). Cabula e Macumba. Templo Espiritual Pantera Negra: https://templopanteranegra.com.br/cabula-e-macumba/
Fernándes, Diamantino. (1942). FEU - Federação Espírita De Umbanda. Primeiro Congresso Brasileiro do Espiritismo de Umbanda. Rio de Janeiro: Jornal do Comércio. Jornal do Comércio, pág. 20. https://www.espiritualidades.com.br/Artigos/C_autores/Congresso_de_Umbanda.pdf
Freitas, Byron Torres de., y Pinto, Tancredo da Silva. (1957). Fundamentos da Umbanda. Editora Souza.
Freyre, Gilberto. (2010). Casa Grande y Senzala: La formación de la familia brasileña en un régimen de economía patriarcal (Vol. 1). Marcial Pons Ediciones de Historia, S.A.
G1 Rio. (2025). Paolla Oliveira se despede como rainha da Grande Rio após brilhar como onça, Cleópatra, pombagira e mais; relembre os 7 carnavais. Globo.com. https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/carnaval/2025/noticia/2025/03/04/paolla-oliveira-se-despede-como-rainha-da-grande-rio-apos-brilhar-como-onca-cleopatra-pombagira-e-mais-relembre-os-7-carnavais.ghtml
González, Léila. (1988). A categoria político-cultural de amefricanidade. Tempo brasileiro(69/82), 69-82.
Guimarães, Antônio Sérgio Alfredo. (2002). Classes, raças e democracia. Fundação de Apoio da Universidade de São Paulo.
Haag, Carlos. (2011). A força social da umbanda. Pesquisa FAPESP(188). https://revistapesquisa.fapesp.br/wp-content/uploads/2011/10/084-089-188.pdf
Hofbauer, Andreas. (2006). Uma história de branqueamento ou o negro em questão? Editora Unesp.
Jornal de Umbanda. (1953). Ed. 30. Biblioteca Nacional: http://bndigital.bn.br/hemeroteca-digital
Munanga, Kabengele. (1999). Rediscutindo a mestiçagem: identidade nacional versus identidade negra. Vozes.
Negrão, Lísias N. (1996). Entre a cruz e a encruzilhada: formação do campo umbandista em São Paulo. Editora da Universidade de São Paulo.
Neri, Marcelo C. (2011). Novo mapa das religiões. Fundación Gertulio Vargas. https://repositorio.fgv.br/server/api/core/bitstreams/3700ddab-93c4-4ab9-954b-dcfe037e97e8/content
Nogueira, Lèo C. (2017). Da África para o Brasil, de Orixá a Egum: as ressignificações de Exu no discurso umbandista (Tesis Doctoral. Doctorado en Historia). Universidade Federal de Goiás. https://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/7148
Oliveira, Raimundo Ferrreira de. (1987). Seitas e heresias, um sinal dos tempos. CPAD.
Oliveira, Jose Henrique Motta de. (2007). Entre a Macumba e o Espiritismo: uma análise comparativa das estratégias de legitimação da Umbanda durante o Estado Novo [Tesis de maestría, Universidad Federal de Río de Janeiro]
Ortiz, Renato. (1999). A morte branca do feiticeiro negro: Umbanda e sociedade brasileira. Brasiliense.
Ortiz, Renato. (2011). A morte branca do feiticeiro negro. Vozes.
Pinto, Tancredo da Silva, y Freitas, Byron T. (1968). Guia ritual para a organização de terreiros de Umbanda. Editoria Eco.
Prandi, Reginaldo (s.f.). Macumba Carioca. Caminhos Do Axé. https://caminhosdoaxe.com.br/encyclopedia/macumba-carioca/
Prandi, Reginaldo. (2007). As religiões afro-brasileiras nas ciências sociais: uma conferência, uma bibliografia. Revista Brasileira de Informação Bibliográfica em Ciências Sociais(63), 7-30. https://bibanpocs.emnuvens.com.br/revista/article/view/300
Ribeiro, Darcy. (1977). Os Brasileiros – 1. Teoria do Brasil. Editora Civilização Brasileira.
Sousa, Hortensia, y Santana, Ramón Luis. (2022). O pardo em questão: A mestiçagem como dispositivo político e como processo de tensão das identidades. Kwanissa: Revista de Estudos Africanos e Afrobrasileiros, 5(12), 337-355. https://doi.org/10.18764/2595-1033v5n12.2022.16 DOI: https://doi.org/10.18764/2595-1033v5n12.2022.16
Veiga, Edison. (2021). Zélio, o Caboclo das Sete Encruzilhadas: o 'fundador da umbanda' que não é bem aceito por umbandistas atuais. BBC News Brasil: https://www.bbc.com/portuguese/geral-59677047
Zweig, Stefan. (2013). Brasil, país do futuro. Tradução de Paulo S. F. de Almeida. São Paulo: Companhia das Letras.
Descargas
Publicado
Cómo citar
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2025 Giovanna Campani, Claudia Herzfeld

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.
Esta licencia permite a terceros compartir (copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato) y adaptar (remezclar, transformar y crear a partir del material para cualquier finalidad, incluso comercial), siempre que se reconozca la autoría y la primera publicación en esta revista (La Revista, DOI de la obra), se proporcione un enlace a la licencia y se indique si se han realizado cambios en la obra.